
Oceano Atlântico, litoral da Província do Rio Grande do Norte, 10 de abril de 1892. O dia ainda havia terminado quando os pescadores de uma pequena comunidade da costa sul potiguar, situada na foz do rio Curimataú, viram ao longe, no horizonte marinho, o que parecia ser uma deplorável jangada. Somente quando o barco se aproximou da modesta vila é que foi possível notar que havia um só homem o conduzindo. Visivelmente abatido e bastante castigado pelo sol equatorial, o forasteiro apenas conseguiu balbuciar algumas poucas palavras de agradecimento, com claro sotaque estrangeiro, antes de desfalecer.
Recolhido à casa de um dos líderes da comunidade, só no dia seguinte é que o estranho visitante, já recomposto, finalmente pôde se apresentar. Seu nome era Charles Jones, um engenheiro inglês que se mudara para o Brasil havia muitos anos e que encontrara trabalho na estrada de ferro que construíram entre o porto de Santos e o interior de São Paulo. Os pescadores se entreolharam e certamente indagavam: o que estaria fazendo o britânico tão longe de casa? Seria ele passageiro de algum navio que passava por ali? Náufrago em alguma praia mais ao norte?
Jones parecia esconder algo. Ainda que enfraquecido, insistentemente pedia aos seus salvadores que o levassem até Recife, em Pernambuco, sem alongar-se na conversa. Ele repetia a todos que se tratava de um caso de vida ou morte para mais de 200 homens. Outra coisa que o inglês falava toda hora era: “Preciso redimir meu crime hediondo. Tirei a vida de um. Agora posso salvar a de muitos”.
Durante a viagem até a capital pernambucana, que levou quase três dias, em uma das noites, Jones sentou-se à fogueira e resolveu compartilhar com os companheiros de viagem a sua trágica história. Para ele, a curva do destino se desenhara oito anos antes, na manhã do dia 6 de abril de 1884.
O crime de Charles Jones
Charles Jones trabalhava para a companhia inglesa São Paulo Railway, no cargo de inspetor e engenheiro auxiliar dos planos inclinados da via permanente da estrada. Tinha 39 anos de idade na ocasião. Todos o conheciam como um sujeito trabalhador e agradável, contando com a simpatia dos colegas da ferrovia. Por outro lado, diziam que o engenheiro nutria uma queda por bebidas, responsável por alterar seu humor de forma radical. Havia momentos que, embriagado, ele costumava se entregar ao deleite das meretrizes que atendiam nos hotéis à beira do cais e em jogos de cartas e dados. Também ficava agressivo e “torrava” seu dinheiro com frivolidades, para desespero da esposa e tristeza da pequena filha de cinco anos.
Nesta época, Santos era uma cidade que reunia com pouco mais de 13 mil habitantes. Sua área urbana se angustiava entre as ruas da Penha (atual Marquês de Herval) e São Leopoldo, para os lados do Saboó, e Otaviana (atual Conselheiro Nébias), para os lados do futuro Paquetá.
Naquele dia 6, um domingo, após prometer à esposa melhoras em seu comportamento, Jones decidiu fazer uma viagem para Inglaterra com a família. Assim, obteve uma licença da diretoria da SPR e reservou passagens no transatlântico “Tagus”, da Royal Mail, com partida programada para a parte da tarde daquele domingo. Seu destino era a cidade portuária de Liverpool.
Jones almoçou no Hotel Europa e logo depois dirigiu-se à estação do Valongo, onde iria se encontrar com o chefe, Paulo Emilio Villmersdorf, 40 anos de idade, natural de Dresden, Alemanha, casado e pai de sete filhos. Havia doze anos que o “alemão” comandava a movimentada estação de trem, gozando da mais absoluta confiança dos diretores da “Ingleza”.

Ao encontrar-se com o colega de trabalho, conversaram longamente e riram francamente de algumas histórias. Em seguida, Paulo pediu licença, dizendo que iria conferir a “burra” (o dinheiro recebido durante o expediente) da manhã. O chefe da estação foi ao escritório, e não trancou a porta. Jones entraria logo depois e cometeria uma atrocidade que a cidade jamais vira antes.
Como não houve testemunha ocular do fato, o que faria parte dos autos de um longo processo que se desencadearia mais tarde são meras versões. Paulo Emílio morava em uma pequena casa dentro da estação e, portanto, sua família, via de regra, estava por perto. Dois dos filhos menores do chefe da estação, que brincavam no quintal da casa, escutaram um baque surdo, como o de um corpo caindo. Em seguida, ouviram gemidos dolorosos e abafados. Imediatamente eles chamaram por socorro, acreditando que o pai estivesse sofrendo um ataque.
Foi quando apareceu o criado Francisco Algarve que, ao olhar para dentro do escritório através de uma vidraça, deparou-se com a cena macabra. Paulo estava no chão, deitado sobre uma poça de sangue, enquanto Charles Jones segurava nas mãos a arma do crime, uma pequena machadinha. O assassino ainda estava desferindo golpes sobre a cabeça da vítima. Francisco correu para tentar conter o engenheiro, mas acabou também sendo atingido e desmaiou.
Mais tarde, no laudo de autópsia, conclui-se que Jones atingiu o chefe da estação primeiramente na nuca e depois desferiu-lhe golpes que espatifaram os ossos parietais e occipital (ambos no crânio).
Outros empregados da estação correram para o local por conta dos gritos aflitivos da família de Paulo Emílio. Diante da cena, Charles Jones aparentemente ficou em estado de transe, ameaçou os empregados e chegou a sair do local para lavar as mãos cheias de sangue no chafariz que existia defronte à estação. Ao final, largou a machadinha e não ofereceu a menor resistência à prisão. Parecia estar arrependido pela barbárie que cometera.
A notícia do assassinato correu a cidade feito rastilho de pólvora. Muitos curiosos foram até a estação do Valongo para presenciar o doloroso espetáculo. A consternação era geral em Santos, em solidariedade à esposa da vítima e seus sete filhos, agora. Três deles estudavam na Europa, o que evidenciava a boa condição de vida que ele proporcionava à família. Paulo havia feito um seguro de vida, no valor de 5 mil dólares, e isso garantiria de certa forma a subsistência dos filhos.
O corpo foi retirado para o sepultamento somente no dia seguinte, às 11 horas, sendo acompanhado por um mar de gente.

Prisão e julgamento
Charles Jones acabou recolhido à cadeia pública, na Praça dos Andradas. Foi levado a Juri, presidido por José Vergueiro (sobrinho do Visconde de Vergueiro). O promotor do caso, na acusação, foi João Galeão Carvalhal e o defensor público, José Emílio Ribeiro de Campos. Nas primeiras oitivas, o inglês resolveu aparentar desarranjo mental, alegando que “estava com a cabeça tonta e quando fazia esforço para lembrar-se do que havia acontecido, sentia dores horríveis e a voz embargava-se na garganta, tendo vontade de chorar, por se ver no meio de coisas tão extraordinárias”. Ele tentou de todas as maneiras convencer as autoridades que estava “sofrendo das faculdades mentais”, mas isso não passava de uma estratégia da defesa, tentando justificar o ato insano cometido. A imprensa e a opinião pública rechaçavam fortemente essa condição.
Jones, então, escreveu uma carta em 19 de abril de 1884, pretendendo explicar a todos que a sua versão da história justificava, de certa forma, o crime cometido.
O juiz chamou peritos médicos para investigar a condição insana de Jones. Esta missão foi confiada aos drs. Silvério Fontes e Raymundo Soter de Araújo, que, depois de minuciosa e repetidas investigações, chegaram à conclusão de que Charles Jones não sofria das faculdades mentais.
Tentativa de fuga
Apesar da loucura, Charles Jones teve o espírito bem esclarecido para compreender que a prisão se tornava para se um suplicio e que a fuga deveria ser seu único recurso, depois de ter falhado completamente o seu plano de insanidade. Charles Jones começou a cogitar do modo e meios de uma fuga. Inegavelmente houve algum poder oculto que o protegeu nesse sentido, fornecendo-lhe instrumentos, cordas etc., para sua malograda evasão.
O plano era dos melhores e teria dado resultado se uma circunstância ocasional não se metesse de permeio. O carcereiro, passando revista na prisão em que estava Charles Jones, encontrou debaixo da tarimba, duas verrumas, uma lima de aço, cordas, talhadeira, lençol e um furador. Uma das tábuas da tarimba tinha sido despregada e na parte de dentro foram ajustados pequenos pedaços de madeira que serviam de degraus, de modo que esta tábua encostada na parede da prisão dava perfeitamente na altura do teto. Charles Jones começou a serrar o assoalho da Sala da Câmera, não conseguindo, porém, realizar a evasão, cuja tentativa foi descoberta pelo carcereiro.
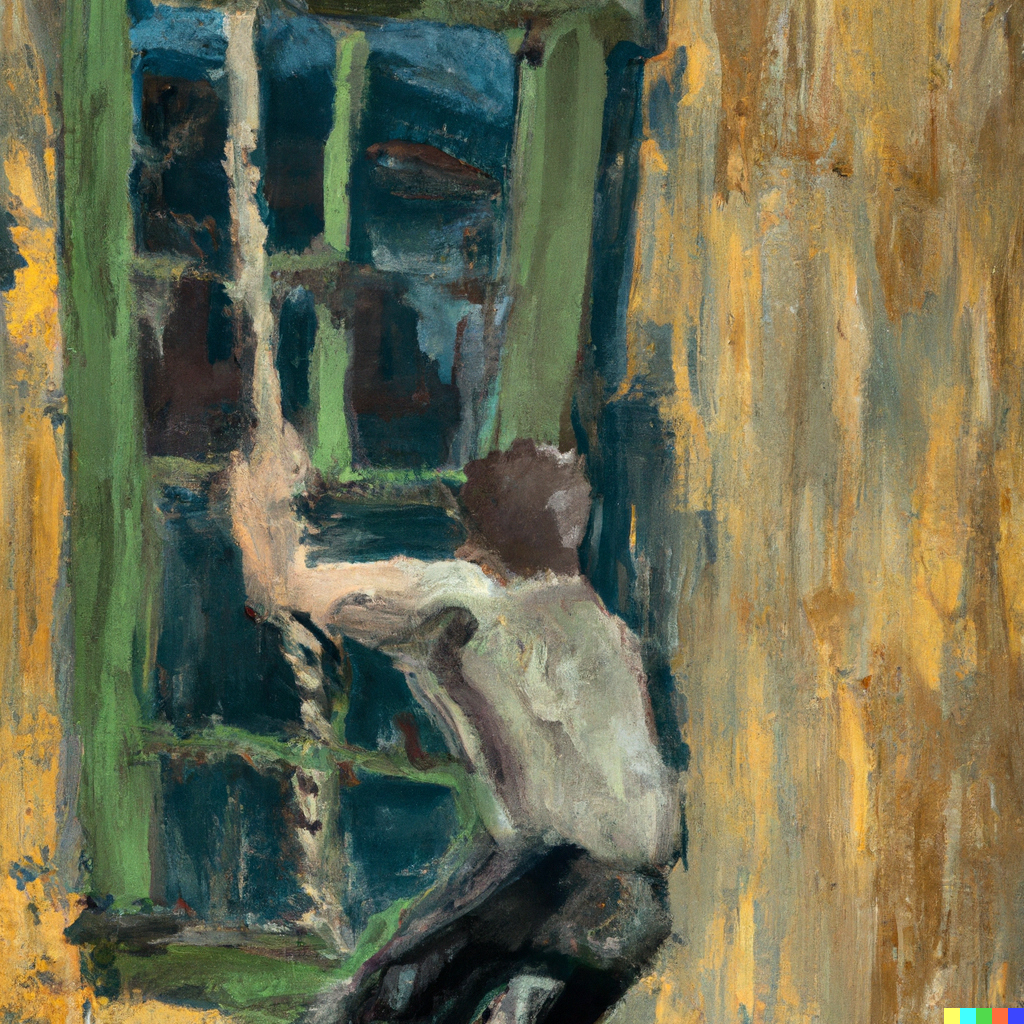
O resultado desfavorável da primeira tentativa não bastou para que Charles Jones desistisse de mais uma vez evadiu-se da prisão. Assim, é que novos instrumentos foram fornecidos e desta vez ele conseguiu descer por uma das janelas da Câmara, sendo capturado pela sentinela que ouviu a queda do preso sobre a calçada na rua. As autoridades policiais não conseguiram descobrir quais eram os amigos de Charles Jones que tanto se interessavam pela sua fuga.
Julgamento
O primeiro julgamento do réu Charles Jones aconteceu no dia 16 de setembro de 1884. O Conselho de Sentença era composto pelos senhores Antônio Militão de Azevedo, Antônio Ludgero dos Santos, Francisco Várzea Madureira Guerra, João Bento de Souza, Bento José Neto, Henrique Geraldo Muniz Brucken, Domingos Henrique de Freitas, Manuel Eduardo do Amaral, Antônio José da Silva Bastos Júnior, Lauriano José de Oliveira, Fernando Lázaro de Azevedo e Thobias Jardim Martins da Silva.
Charles Jones foi condenado no grau médio do art. 192 do Código Criminal e médio do art. 205 do mesmo código e tendo entrado em segundo julgamento no dia 14 de março de 1885, foi condenado nas mesmas penas. Na somatória, Charles Jones pegou prisão perpétua, a ser cumprida na unidade penal da ilha de Fernando de Noronha, para onde iam os presos mais perigosos do Brasil.
Em Noronha, de vilão a herói
Já haviam se passado sete anos da chegada de Charles Jones à colônia penal em Fernando de Noronha, quando algo incomum aconteceu. As comunicações entre a ilha e o continente foram interrompidas e o barco de provisões estranhamente não havia chegado na data marcada. Mais de 200 homens habitavam o remoto lugar, entre condenados e funcionários do governo, responsáveis pela administração e vigia dos presos. A comida estava praticamente no fim e o alerta geral havia sido ligado.
Estava nítido o desleixo das autoridades de Pernambuco, que jurisdicionava o presídio, ainda carente de telégrafo. O solo local era inapropriado para culturas e criações e, portanto, o lugar dependia das provisões vindas do continente. Os dias se passavam e em determinado momento todos já pensavam na morte pelas vias da fome, da inanição.
Eis que Jones, quebrando o desânimo e a desesperação gerais, disse o comandante: “Preciso redimir meu clima hediondo. Tirei a vida de um. Preciso salvar a de muitos. Me deem e aparelhem uma jangada. Eu sozinho irei ao continente para expor as autoridades a nossa dolorosa situação”. Era, no entanto, uma ideia suicida. As chances de atravessar o oceano e chegar são e salvo até o Brasil eram mínimas. Mas era o que eles tinham para aquele momento. E o inglês de Santos parecia louco o suficiente para tentar e até conseguir realizar a proeza. E lá foi ele, arrojando-se no mar bravo, investindo contra o mistério.

No meio do oceano, o corpo, sobre frágeis e entrecruzadas toras de madeira, seguia na direção do incerto. Contudo, o comandante da nau improvável estava certo de seu sucesso, arrostando a tempestuosa, raivosa fúria de um inesperado temporal. Desabrigado, exposto às intempéries do tempo, da chuva, e alimentando-se de biscoitos e de uma pouca água. Sem dormir, com as mãos sempre nos remos e os olhos nas velas, atento à variação dos ventos, Jones se viu arrastado uma hora para um lado, outra hora para outro, à crista da extensa serrania d’água e da alternância das vagas. Em alguns momentos, chegou a cruzar com tubarões, mas conseguiu afastá-los com seus remos.
Ao final de doze torturantes dias, quando a esperança parecia afundar nas escuras águas do Atlântico, eis que Charles Jones avista o litoral. Ele vencera 66 milhas marítimas e superava algo inacreditável. Algumas horas depois era recolhido por pescadores de uma comunidade potiguar, situada às margens da foz do rio Curimataú, no Rio Grande do Norte.
Missão cumprida e indulto
Depois da narrativa aos companheiros da viagem até o Recife, Charles Jones alcançou a capital pernambucana, onde alertou as autoridades sobre a situação em Fernando de Noronha. Uma lancha com provisões foi rapidamente providenciada e chegou a tempo de salvar os 200 homens que lá haviam sido praticamente condenados à morte pela fome.
O inglês herói ficou em Recife. Sua história correu a cidade e, mais tarde, todo o país. Charles Jones conseguiu dinheiro e um transporte até o Rio de Janeiro, de onde mandou correspondência a São Paulo, onde a mulher os filhos moravam. Combinou encontro na capital federal, onde, no dia 5 de março de 1895, embarcaria com a família, no vapor “Britania”, para Liverpool, de onde nunca mais regressaria.
Em 15 de novembro de 1896, o presidente do Estado de São Paulo, Campos Salles, em função do ato heroico de Jones, decretou o perdão da pena imposta ao assassino de Paulo Emilio Villmersdorf. Considerou-se que, de certa forma, pagara com os anos de prisão a dívida que tinha perante a sociedade, somado ao ato corajoso que preservou dezenas de vidas. Aos olhos de Deus, que permitiu que ele chegasse ao litoral diante daquelas circunstâncias, pareceu também uma prova de indulto.
Os desenhos aqui postados foram produzidos com uso de IA.



